“MARY POPPINS” (1964) – Supercalifragilisticexpialidoce
O adjetivo que melhor qualifica o clássico MARY POPPINS, de 1964, é o neologismo presente no próprio filme, “supercalifragilisticexpialidoce”. Trata-se da aglutinação de radicais/prefixos/sufixos denotando algo extraordinariamente incrível. Se a produção não merece tal qualificação, sua protagonista, que lhe dá o nome, certamente faz jus a ela.
Na cinzenta Londres do início do século XX, um banqueiro não consegue arranjar uma babá que cuide de seus filhos travessos – ou ao menos uma que fique no emprego por muito tempo. Assim, ele decide assumir o processo seletivo, iniciando a divulgação da vaga por jornal. Querendo ajudar, as crianças elencam as características que gostariam que a babá tivesse, como amabilidade e que seja alguém que lhes dê doces. Irritado, ele rasga as anotações dos filhos e joga os pedaços na lareira. No dia seguinte, contudo, aparece Mary Poppins, que magicamente reúne as características desejadas pelos menores. Aos poucos, o que ela faz muda a vida de todos que estão perto dela.

Dirigido por Robert Stevenson, o grande destaque estético do longa reside nos efeitos visuais. A direção de arte de Carroll Clark e William H. Tuntke é também boa, porém não ultrapassa o retrato esperado daquele contexto (algo não muito diferente de “Cantando na chuva”, por exemplo), sobretudo nos figurinos (incluindo as babás quase monocromáticas e os figurinos óbvios). Exceções são os momentos de fantasia, quando são os efeitos visuais que se destacam: o icônico voo de Mary Poppins, embora constitua marca inesquecível da personagem, é atração imagética singela diante da estonteante sequência em um bosque, na qual os artistas interagem com animação.
Na década de 1960, evidentemente não havia o chroma key como é conhecido hoje, de modo que os estúdios Disney adotavam uma técnica conhecida como vapor de sódio, em que os artistas eram filmados em uma tela branca em uma câmera Technicolor de três tiras, algo mais complexo que a tela verde para combinar artistas e um fundo animado. Talvez seja essa complexidade que impressione para a época, dando credibilidade às mágicas de Poppins, como conversar com animais e ganhar uma corrida de cavalos saídos de um carrossel. A rigor, os efeitos visuais de “Mary Poppins” são tão chamativos que mereceriam um texto específico.
No papel da protagonista, a escalação de Julie Andrews foi irrepreensível – e a consagração pelo Oscar foi mais do que justa. A atriz, dotada do visual ideal para a personagem (inclusive o rosto corado que os pequenos desejavam), absorveu da maneira ideal que, mesmo doce e gentil, a babá “praticamente perfeita em quase tudo” (nas suas próprias palavras) precisava ser firme sem rispidez, dócil sem ingenuidade e alegre sem puerícia. Quando Mary Poppins conversa com seu patrão, demonstra segurança ao elencar suas qualificações, negando as referências porque delas não necessita. Quando ela orienta as crianças a arrumar o quarto – após uma espécie de bronca (se é que se pode chamar aquilo de bronca) que apenas ela seria capaz de dar -, o faz apontando que a tarefa pode ser divertida, a depender de como elas estivessem dispostas a encarar o exercício. Ainda, quando aceita a fantástica empreitada com Bert, o faz com uma seriedade que deixa clara que aquilo não é pura diversão (isto é, tem fins pedagógicos).
E é de pedagogia que Mary Poppins entende como ninguém, principalmente considerando o seu ponto de vista único e a revolução que proporciona na residência dos Banks. Em um primeiro contato com Michael e Jane, ela usa uma trena para avaliar suas personalidades, um de seus incontáveis truques que deixam Michael ainda mais desconfiado do que ele naturalmente já é. Seu discurso quase sempre foge do literal: o açúcar que torna um remédio agradável não é o real, mas aquele toque de doçura que a vida precisa (e o remédio, é claro, também não é literal). O trabalho da babá é criar as crianças, porém o que ela faz vai muito além, já que até mesmo os pais destas percebem a alegria que passa a reinar na casa.
À primeira vista, David Tomlinson pode parecer uma versão exageradamente séria e fria de George, quando, na verdade, ele é a representação de todos os adultos. Como ele mesmo diz, ele não é contrário à alegria, mas quer discrição. Aos adultos não é dado sonhar, rir, brincar ou imaginar, mas apenas lidar com “assuntos sérios”, pois um lar precisa ser organizado com a retidão de um banco. O que ele quer é o que os pais querem: que os filhos aprendam a ser iguais. Logo no início, quando ele ajuda Katia Nanna a sair da casa, sem perceber, ele apenas age como qualquer outro adulto. A raiz do problema está ali, de modo que Mary Poppins lida com ele de maneira periférica – não por outra razão, sua lição sobre alimentar os pássaros se torna fundamental na trama (e, mais uma vez, não há literalidade em seu discurso, representando um ensinamento sobre solidariedade).
A fala mais emblemática de Mary Poppins é esta: “gostaria de esclarecer uma coisa: eu nunca explico nada”. De fato, quando ela diz que cuida das crianças até os ventos mudarem, ela não precisa explicar que as vicissitudes são os ventos que as levam de lar em lar. O roteiro de Bill Walsh e Dom DaGradi (baseado na obra de P. L. Travers) insere subtextos inteligentes (como a questão sufragista e a valorização dos artistas de rua), porém é na protagonista que está a riqueza simbólica da produção. A sabedoria que Mary Poppins transmite não é dirigida a Michael e Jane, a eles cabe a diversão. O que a babá faz é ensinar os adultos, esses sim precisam aprender a colocar um pouco de açúcar em seus remédios. A mágica existe apenas para quem está disposto a enxergar.
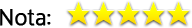
Dedico a presente crítica a alguém muito especial cuja doçura ao pronunciar “supercalifragilisticexpialidoce” só é comparável à sua personalidade. Rafa, consegui pronunciar essa palavra gigantesca hoje, mas provavelmente amanhã já não conseguirei. Seu significado, contudo, continuará sempre comigo.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.

