“BELFAST” – Reencontro meigo e afável
BELFAST é o filme mais pessoal de Kenneth Branagh. O filme não é profundo em seu subtexto relativo a um período (no mínimo) conturbado na Irlanda do Norte, porém é bastante emotivo em relação a tudo o que cerca seu protagonista. É um filme bem feito e bastante passional que aborda assuntos sérios com grande ternura.
Certo dia, Buddy presencia um quebra-quebra em seu bairro, sem entender o que acontece e sendo protegido por sua mãe. Mesmo sendo criança, a partir daquele dia ele passa a perceber que os adultos conversam sobre assuntos sérios – que talvez ele não compreenda plenamente, mas compreende a seriedade. Isso não o impede, contudo, de prosseguir com sua infância.
Jude Hill é uma das crianças mais carismáticas já vistas no cinema. O uso intenso de closes privilegia algumas de suas principais características, como as sardas no rosto, o sorriso doce e o olhar angelical. Em um impactante spinning shot, o diretor (e roteirista) Kenneth Branagh filma o garoto assistindo, perplexo, a uma cena muito além da sua compreensão. O roteiro do cineasta não se preocupa em explicar muito bem o que ocorre, limitando-se a uma guerra entre católicos, oprimidos, e protestantes, opressores (exceto a família de Buddy, que é protestante, porém pacífica). O impacto das cenas de violência, desse modo, decorre muito mais da perplexidade do protagonista do que do entendimento dele (e do espectador) sobre o ocorrido.

A produção opta por seguir o ponto de vista de Buddy, o que justifica os enquadramentos baixos (geralmente muito bem escolhidos). Falante, o menino manifesta preocupação com a mãe (“por que você sempre fica triste quando chegam essas cartas?”); ingênuo, ele não sabe o que dizer se perguntado qual sua religião; influenciável, tem em Moira (Lara McDonnell) o empurrão para atitudes reprimidas pela mãe. As pessoas da sua família não têm nome, sendo apenas o pai (Jamie Dornan, provando que tem capacidade de atuar), a mãe (Caitríona Balfe, muito comovente) e os avós. Apesar de se sentir adulto (“eu sei bem quando não tem dinheiro”), Buddy é uma criança comum que se desespera diante de uma virtual adversidade (a possível saída de Belfast) e que considera ter encontrado na primeira paixonite o amor de sua vida.
É deveras edulcorada a relação de Buddy com seus avós. No avô, interpretado por um imponente Ciarán Hinds, ele encontra ensinamentos sobre garotas e lições de matemática (talvez não da maneira como a mãe da criança gostaria, mas com eficácia no resultado). Para combinar com a doçura, há momentos em que o avô se declara para a avó, vivida por uma corretamente cansada Judi Dench e mesmo de dança entre os dois, quando ele canta “How to handle a woman” (do musical Camelot). As mostras de amor são ainda temperadas por humor, como quando ele afirma não entender o que ela fala mesmo após cinquenta anos de casados. Os dois, porém, são muito diferentes: o avô tenta transmitir otimismo e energia para Buddy, mesmo em situação de vulnerabilidade, ao passo que a avó não esconde a fadiga dos anos (os closes destacam suas rugas faciais).
Não é à toa que a avó se comove especialmente com “Horizonte perdido”, filme de 1937 de Frank Capra. Shangri-La é o paraíso que ela – representando, é claro, a sua geração – gostaria que a Irlanda do Norte fosse (sobretudo porque ela nunca saiu de lá). Os hoolingans colocam em perigo a vida daquelas pessoas, o que faz com que a família, ao assistir a “O calhambeque mágico”, de 1968, tenha a sensação de escape da realidade, interagindo fisicamente com o filme. Também não é à toa que a arte exerce influência tão grande em Buddy que a belíssima fotografia em preto e branco ganha cores. Os créditos de “Star Trek” aparecem coloridos e até mesmo uma peça teatral – o clássico de Dickens “Um conto de Natal” – ilumina a vida de Buddy. O garoto respira arte, como ao manifestar o desejo de assistir nos cinemas a “Robin Hood de Chicago”, de 1964, nos aparecimentos de grandes figuras como John Wayne e James Stewart ou mesmo quando lê os quadrinhos do super-herói Thor (um easter egg relativo à filmografia de Branagh).
Mesmo tendo declarações e atitudes reprováveis em tempos de pandemia, Van Morrison acabou sendo uma boa escolha para a trilha musical não apenas por também ser da Irlanda do Norte, mas principalmente porque suas belas canções combinam muito com a atmosfera do longa. O começo com “Down to joy” prepara o espectador para o clima leve que prevalece na película (embora os minutos seguintes não o sejam); o saxofone de “Stranded” transmite uma sensação de calma; “Bright side of the road” é a sonorização do projeto de romance que Buddy vive; e “Days like this” imprime a alegria da sequência elíptica de uma Belfast que já foi idílica. Musicalmente, contudo, a melhor cena é aquela embalada por “Everlasting love” (de Love Affair), cuja energia é contagiante (ainda mais com o largo sorriso de Buddy assistindo ao show do pai com a mãe).
Kenneth Branagh não tem em “Belfast” um filme político, ainda que seu fundo o seja. Seu afeto por suas origens é palpável, de modo que a obra soa como uma ode, não como um lamento (apesar dos acontecimentos lamentáveis retratados). A visão pueril de Buddy pode dar uma sensação de artificialidade ou superficialidade. Para Branagh, entretanto, é inestimável o valor do reencontro com uma etapa da vida em que o que era ruim o afetava pouco. Para o público, esse reencontro é meigo e afável.
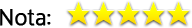

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.

