“MEU PAI” – O esboço da agonia
O que MEU PAI faz com seu espectador é causar aflição. A chave para tamanho êxito em sua proposta reside na narrativa não muito confiável, vez que construída a partir da mente confusa de seu protagonista. A forma exemplar com que o longa faz isso estimula o público a sentir compaixão por quem está na situação do protagonista e, ao mesmo tempo, receio de se encontrar em igual condição.
Apesar da idade avançada, Anthony considera que está bem o suficiente para cuidar de si, razão pela qual recusa a ajuda de sua filha, Anne. Ela, porém, quer deixar uma cuidadora na sua companhia, principalmente porque planeja se mudar para Paris, não podendo mais se dedicar a ele com a mesma frequência. Enquanto isso, Anthony duvida de todos que estão à sua volta e começa a questionar a própria realidade como a conhece.
Este não é o primeiro trabalho que Florian Zeller transforma um roteiro de peça teatral em roteiro de filme, mas é o primeiro roteiro seu de peça e de filme (no segundo caso, juntamente com Christopher Hampton) que ele dirige. Saindo de comédias francesas com nomes famosos (Jean Rochefort e Gérard Depardieu, dentre outros), o salto para a direção de grandes nomes britânicos pode parecer ambição em demasia (sobretudo porque é sua primeira direção de longa). Contudo, o que ele não faz – e que é o erro mais comum das peças teatrais traduzidas em filmes – é teatro filmado.

Tecnicamente, “Meu pai” é irrepreensível. No design de som, os ruídos da movimentação das personagens no piso de madeira enriquecem a sempre impecável trilha musical de Ludovico Einaudi. O musicista, por sinal, é uma escolha certeira para Zeller, mais habituado com a comédia, para conseguir fornecer a dramaticidade intensa exigida na película. A ópera presente na trilha é exemplo de como ela agrega na obra: de uma composição de Bizet ao timbre inconfundível de Maria Callas, a personalidade de Anthony é moldada como a de um senhor erudito e culto. Adiante, percebe-se que ele é um britânico típico, com seu whisky e suas piadas sobre o fato de o inglês não ser a língua oficial em Paris.
Reforçando o esmero no som, a montagem de Yorgos Lamprinos, sem sobressaltos, marca presença para mostrar que não se trata de uma peça teatral, o que corrobora as modificações de iluminação feitas pela fotografia (na segunda hipótese, a ideia de deixar uma dúvida sobre o momento do dia vai ao encontro da proposta angustiadamente imersiva). O cenário é quase integralmente o mesmo – um belo e grande apartamento de decoração suntuosa, o que chama a atenção no design de produção de Peter Francis -, porém ele é explorado de diversas formas e em ângulos distintos. O que seria um defeito (cenário praticamente único) se torna uma qualidade porque, novamente, colabora para tornar confusa a atmosfera.
Nessa confusão, a cor azul surge, inicialmente, como representação imagética da segurança de que Anthony precisa (ainda que não admita). Está presente em seu pijama, na camisa de Anne, nas suas sacolas e até mesmo em seu remédio. Com o passar do tempo, porém, a mesma cor é ressignificada, repousando na constante dúvida do protagonista sobre si e sobre o que o cerca. É nessa dúvida, como dito, que se situa também o público. Trata-se de uma estratégia do roteiro que, ao adotar o ponto de vista de Anthony, faz com que a realidade perca confiabilidade, pois tudo pode ser diferente do que aparece. Anne, por exemplo, aparece vivida por Olivia Colman, mas essa personagem, assim como as demais, pode ser compartilhada por outros artistas do elenco, como Imogen Poots, Olivia Williams, Mark Gatiss e Rufus Sewell.
No centro de todos está Anthony Hopkins, em uma das melhores performances da sua profícua carreira. “Meu pai” é um dos raros filmes em que Hopkins aparece com uma personagem perfil menos sério e, principalmente, mais inseguro do que as de costume. O protagonista transparece alguma veia cômica (a reiterada questão do relógio, o sapateado), porém as constantes mudanças de humor são o canal que desemboca na flagrante fragilidade de Anthony. Com idade avançada, ele desperta empatia em razão da vulnerabilidade, mas desafia essa empatia à medida que se torna agressivo com os que o rodeiam – isso, é claro, se ele estiver sendo realmente agressivo, pois aquilo tudo pode ser uma memória equivocada.
As inflexões da narrativa ocorrem justamente porque Anthony não está bem, ao menos mentalmente. Depois de Paul se (re)apresentar (se é que aquele é realmente Paul), Anthony esquece seu nome, o que mostra que sua capacidade de recordação está brutalmente afetada. Hopkins sugere que a idade dificulta até mesmo a locomoção (basta perceber que se levantar é para Anthony – a personagem – um esforço), contudo fica evidente que a compreensão da realidade é que está prejudicada. É doloroso ver alguém em sua situação, que chega a um extremo de fraqueza psicológica que choca qualquer pessoa.
Poucos atores teriam a habilidade de Hopkins de ser tão convincente, depois de papéis “fortes” (seguros de si, sábios, heroicos, poderosos etc.), quanto ele em “Meu pai”. A lágrima que desde de seus olhos soa como um pedaço de si que ele não quer conceder, por isso segura todas as gotas (quando Anne anuncia que vai morar em Paris, por exemplo) para não expor a própria tristeza. Esconder a própria condição, por sinal, é o que ele faz de melhor. Apenas porque a narrativa adota o seu ponto de vista – fragmentado, rocambolesco, propositalmente confuso – é que a plateia consegue perceber o quão angustiante pode ser o distanciamento da realidade, a dúvida dos outros e a incerteza de si. Com o brilhantismo de Hopkins, a excelente direção e o sagaz roteiro, ambos de Zeller, “Meu pai” não compõe um retrato de uma das faces do envelhecimento, mas um esboço da agonia da qual padecem alguns dos que envelhecem.
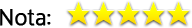

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.

