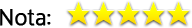“A PRISIONEIRA” – Cinema-obsessão, de novo e de novo
* Filme assistido na plataforma da Supo Mungam Films (clique aqui para acessar a página da Supo Mungam Plus).
Certa vez, falando a Cinematheque Française sobre o que seria o seu cânone pessoal de grandes filmes, Chantal Akerman, diretora de A PRISIONEIRA, disse algo como “entre as vanguardas e os grandes clássicos, pouco me interessa”. É uma pista valiosa para investigar sua obra, uma chave, um caminho. Seus filmes, frequentemente, dialogam com esses dois extremos, se faz sentido chamá-los assim. “Jeanne Dielman” e “Anos Dourados”. “A Prisioneira”,sem muitos disfarces, está em conversa explicita com os clássicos, é um filme interessado em outros filmes, no maquinário do cinema, na essência do filmar.

Naquela mesma oportunidade, quando louvou clássicos e vanguardistas, Chantal listou “Um Corpo Que Cai”, e é impossível não visualizar James Stewart por trás do volante do carro de Simon (Stanislas Merhar) quando ele persegue incansavelmente Ariane (Sylvie Testud), sua Kim Novak, por Paris, sua São Francisco. Listou também “O Batedor de Carteiras”, e Merhar não estaria nem um pouco fora de lugar entre os planos de um dos elegantes jogos de montagem de Bresson – suas expressões brancas, seus olhos intimidadores, igualmente expressivos e mudos. No apartamento, enquanto conversam, Ariane e Simon se veem apenas pelo vidro fosco que separa a banheira do chuveiro, que revela tudo e não revela nada, que separa dois corpos a centímetros um do outro. É mais uma das tantas cobertas penduradas de “Aconteceu Naquela Noite”.
Esta é, afinal, uma história de obsessões, de prepotências, de desejos, de controle: Simon quer saber o que Ariane faz quando não estão juntos, e nada mais. Não histórias mais cinematográficas que as desse tipo. E há, sem dúvida, certa armadilha em emular esses temas, em cair em terras já devastadas pelos clássicos, mas Akerman não pisa em minas. O fascínio cinematográfico por essas questões tem dois aspectos: o primeiro é que tais forças são os motores do próprio cinema, são sua essência – o jogo das ausências e presenças; o segundo, talvez mais importante, é que esses mistérios nunca foram, talvez nunca sejam solucionados. Não há fascínio naquilo que é certo.
Sempre haverá, portanto, espaço para novas respostas temporárias. Merhar e Testud são, sem dúvida, presenças físicas inegavelmente bressonianas, mas enquanto Bresson dava vida aos rostos e olhares a partir da montagem, da construção do movimento e das intenções, Akerman parece deixar esta tarefa para a natureza, o que em seu caso podemos nomear de mise-en-scène. São movimento e intenções, já vivos e atuantes nos arredores, que transformam esses rostos impassíveis em uma infinidade de sentidos. As perseguições hitchcockianas também são sutilmente ajustadas – não há exatamente suspense, tensão, embora certo hipnotismo seja mantido. O que nos prende dessa vez é outra coisa: não se trata exatamente do desejo em si, da vontade, do anseio, e assim do resultado, mas, digamos, da tragédia do querer, da falência dos desejos, da efemeridade da vontade (José Luis Guerin certamente assistiu ao filme de Chantal antes de exaurir essa questão em “Na Cidade de Sylvia” alguns anos depois).
O obsessivo e seu objeto correspondem, quase sempre no caso dos clássicos, a uma figura masculina e uma figura feminina. Akerman mantém essa tradição, mas não com reverência. O motivo pelo qual “A Prisioneira” deve tanto aos clássicos, mas ainda assim é intrinsicamente um filme de seu tempo, isto é, da virada do século, é que a figura feminina é quem tem a palavra final (a ação, ou a escolha final, mais especificamente). O diálogo central do filme se dá quando Simon leva Ariane à casa da tia, e no percurso discutem o relacionamento. Ariane diz que o ama justamente porque há muito nele que ela não conhece, que há coisas inacessíveis nele, que há um limite (um vidro fosco, uma coberta dividindo o quarto). E Simon diz, simplesmente, que para ele “o amor é o oposto”.
O que Simon chama de amor, Akerman parece saber, é uma bobagem. É o verniz que se pincela para esconder o desejo sempre corrompido de controle, de totalidade. Simon não quer que Ariane viva a seu lado, mas quer lhe dar a vida, pari-la, ser seu criador. Seu desejo é de ser mais do que pode ser, de ser mais do que um em meio a outros, de ser o único. “A Prisioneira”, enfim, não se encerra com a educação moralizante desse homem-criança, para o qual ninguém mais tem tempo, preso em velhos vícios, respirando o próprio ar que exala, ouvindo as próprias palavras; encerra-se, sim, com um desprendimento, com a liberdade do objeto da obsessão. Ariane desaparece, o que é dizer: se liberta. Desaparecer é não ser mais vista. É sair do campo de visão. Escapar dos olhos de Simon. Fugir das lentes das câmeras, sumir das telas. Livre.